Ainda que fosse legal, a censura a livros não teria sentido
As conquistas democráticas têm um sentido para além da força da lei
A censura livros não é coisa recente na humanidade. Durante a maior parte de nossa convivência com os livros, proibi-los e destruí-los foi um comportamento normal. Essa censura adquire diversas formas e motivos, mas o que tem em comum, ao longo do tempo, é a crença de que certos atos e ideias, por serem criminosos e/ou indesejáveis em determinada sociedade, devem também ser banidos e boicotados da arte.
Em sua forma mais caricata e esdrúxula, a perseguição a autores e livros é condenada pela maior parte da sociedade contemporânea. Porém há formas mais sutis de censura que encontram motivos plausíveis, de forma que aqueles que a praticam não se sentem censores. O problema é que, independentemente da maneira como é levada a cabo, a tentativa de banir livros possui determinados pressupostos que são recorrentes e, como pretendo defender, falsos.
É conhecida a censura que a Igreja Católica fazia (e faz) a obras e autores. Na Idade Média, o acesso a livros dependia sobremaneira da instituição religiosa, afinal, antes da criação da prensa (que só vai ocorrer próximo ao fim do período, por volta do ano de 1450), a produção era feita pelas mãos de monges católicos, que copiavam as obras letra por letra. Assim, a Igreja detinha o conhecimento tanto por abrigar letrados numa sociedade em que cerca de 98% das pessoas eram analfabetas, quanto por controlar a reprodução de livros. O argumento dos censores do período é conhecido e bastante simples: se a fé cristã é a verdadeira, não faz sentido deixar circular obras que vão ao encontro dessa verdade, o que levaria ideias falsas e hereges à sociedade. Se as ideias são falsas, a leitura desses livros poderia inculcar ideias equivocadas em alguns indivíduos, o que seria indesejado. Assim, faz mais sentido, de fato, garantir que os poucos leitores tenham acesso apenas àquilo que é verdadeiro e bom, o que inclusive garantiria que eles não perdessem tempo com ideias irrelevantes.
Cabe notar que os pressupostos acima esboçados estão presentes até hoje no debate público. Boa parte das pessoas só discorda da censura quando acredita que as ideias censuradas não são um equívoco: quando levam à destruição de determinados valores considerados inegociáveis, muitos creem que certas ideias merecem sim ser evitadas, por força de lei ou de boicotes. Livros infantis que tratem de sexo ou mesmo que retratem, sem necessariamente recriminar, atitudes ruins, por exemplo, são frequentemente alvos de pais, embora poucos, pouquíssimos cheguem ao conhecimento do público em geral: as polêmicas nascem e morrem nos grupos de WhatsApp de pais e nas diretorias dos colégios. O último caso que veio à tona envolvia um livro de Ziraldo, numa pequena cidade de Minas Gerais. Nessa história dedicada ao público infantojuvenil, a personagem principal tem sua ajuda rejeitada por uma senhora que pretendia atravessar a rua (e fica claro pelo contexto que se trata de um caso de racismo, visto que o protagonista é negro) e passa a observá-la todos os dias, à espera de que seja atropelada. Não podemos também ignorar que, covenientemente, os livros que vêm sendo censurados nos últimos tempos são sobre ou escritos por minorias, embora os argumentos mencionem como problemáticos outros aspectos das obras.
Porém tampouco é de se ignorar que o campo progressista igualmente pratica as suas censuras, embora por motivos que considero nobres e com implicações muito menos nefastas do que aquelas praticadas por funcionários públicos reacionários e/ou pais de classe média bem média e mediana em polvorosa. Determinadas obras e autores são consideradas indignas de ser lidas e trabalhadas em sala de aula por não aderirem a ideais civilizatórios de igualdade entre os seres. Aqui o debate, no entanto, é mais complexo, pois não se trata unicamente de um rechaço sem sutilezas. Nos casos mais simplórios, buscam-se nas obras e na vida de seus autores traços de comportamentos execrados pela mentalidade atual: se houver qualquer tipo de ligação entre o discurso da obra e o discurso do autor, ele deve entrar para o index librorum prohibitorum das esquerdas. Li dia desses, por exemplo, que a obra Insônia, que reúne os contos de Graciliano Ramos, possuía termos racistas e que por isso era um desserviço. Monteiro Lobato e Gilberto Freyre também são alvos preferenciais (embora, como ocorre também com os censores de direita, normalmente sequer foram lidos pelos juízes-da-boa-conduta-literária).
Não me entenda mal o leitor: não estou equivalendo todas as formas de censura, muito pelo contrário. Estou apenas apontando que subjaz a toda censura uma mesma linha de raciocínio: a ideia de que obras e autores possuem ideias falsas e/ou indesejáveis que devem, em nome do bom funcionamento da sociedade, ficar longe do público em geral. Assim, os ideólogos agem, em suas cabeças, menos como censores do que como curadores do que realmente vale a pena ser lido.
Devemos ser capazes de admitir que a lógica por traz da censura ao literário é a mesma e que ela precisa ser repensada. E isso não diz respeito aos valores: afinal, faz todo sentido uma democracia combater aquilo que a ameaça. Porém, quando se trata de obras ficcionais (e eu não estou admitindo que a obra não parte e fala da realidade, que não há política na escrita), esse raciocínio não faz sentido. Para explicar o que quero dizer, vou utilizar um caso concretos, mas que, a meu ver, é significativo e pode ser generalizado.
Comecemos por Monteiro Lobato. Como se sabe, o autor professou ideias racistas ao longo de sua vida. Suponhamos, e não é necessariamente o caso, mas não entrarei no mérito, que o autor tenha mantido suas ideias racistas pelo resto da vida. Acreditar que as suas obras não devam ser lidas parte de um pressuposto há muito superado: o de que a ficção é, de alguma forma, espelho de seu autor, que este o controla com maestria e que doma as palavras para que elas signifiquem em absoluto tudo o que tinha em mente. E mais: que o escritor tem muita clareza em relação a tudo o que pretende dizer e transmitir numa obra. Porém não se pode esquecer que a linguagem não é ferramenta que um sujeito usa para se comunicar: a linguagem nos precede e procede. Isso quer dizer que manejamos discursos e sentidos que não são nossos e que o que falamos hoje será modificado pelos discursos e sentidos do futuro. Ao falar uma língua, adquiro uma rede de ideias e ideais que não são necessariamente os meus, mas que concorrem no interior do que digo. E, no caso da ficção, que representa o mundo mas dele difere, toda obra se insere numa rede de relações textuais quando é produzida e lida que afeta o seu sentido.
Tudo isso quer dizer que é impossível acreditar que haja uma relação direta entre autor e obra, de maneira que num romance escrito por um escritor assumidamente racista podem surgir problemáticas que sejam imediatamente opostas ao que esse ideal execrável poderia supor. Penso, por exemplo, nas obras de Flaubert e Balzac, convictos reacionários cujas criações influenciaram notáveis progressistas. Isso também quer dizer, ainda, que não é possível dar uma palavra final e definir qual seria o discurso de uma obra, qualquer que seja, pois as palavras ali dispostas podem ter diversas significações num mesmo período e ao longo do tempo. Afinal, no caso sobretudo de romances, por mais que haja, por vezes, uma voz narrativa única (e nem sempre é o caso, basta lembrar de O som e a fúria, de Faulkner ou Torto arado, de Itamar Vieira Junior), é próprio ao gênero a mistura dos diversos discursos e falares de um momento, sem ficar claro a qual o autor e/ou o narrador aderem. Afinal, alguém suporia que Graciliano Ramos tem a mesma visão de mundo que Paulo Honório? O mesmo se deveria aplicar caso Graciliano Ramos fosse assumidamente reacionário ou se não se soubesse de sua militância política.
Este assunto merece ser trabalhado num texto à parte, mas vale dizer que, diante de tudo isso, é claro que é possível discutir até que ponto faz sentido dar dinheiro e relevância a um bom escritor com ideais antidemocráticos. Porém precisamos admitir que a motivação é tão somente “extraficcional”, pois isso implica a possibilidade de entrar em contato com as obras do autor quando elas entram em domínio público ou mesmo a possibilidade de trabalhá-la em escola de modo crítico, apontando inclusive as falhas daquele discurso e sua relação com o momento em que surgiram. É por isso que, independentemente de ferir ou não a liberdade de expressão, censurar livros não faz o menor sentido. Pelo motivo que for.
Texto de José Roberto de Luna Filho
A gente indica
Esta semana, indicamos o documentário El crítico (o crítico), que está disponível na plataforma de streaming Max e conta a história de um polêmico, famoso e importantíssimo crítico de cinema espanhol: Carlos Boyero.
Se gostou do texto desta semana, você pode se interessar também por este episódio do nosso podcast, em que Juliana de Albuquerque e José Roberto de Luna Filho discutem se a cultura está em crise e se as produções culturais estão cada vez piores.




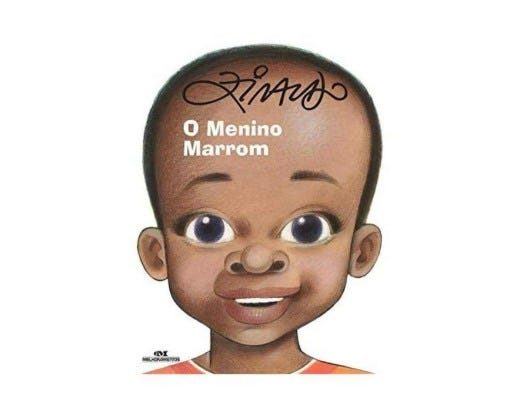
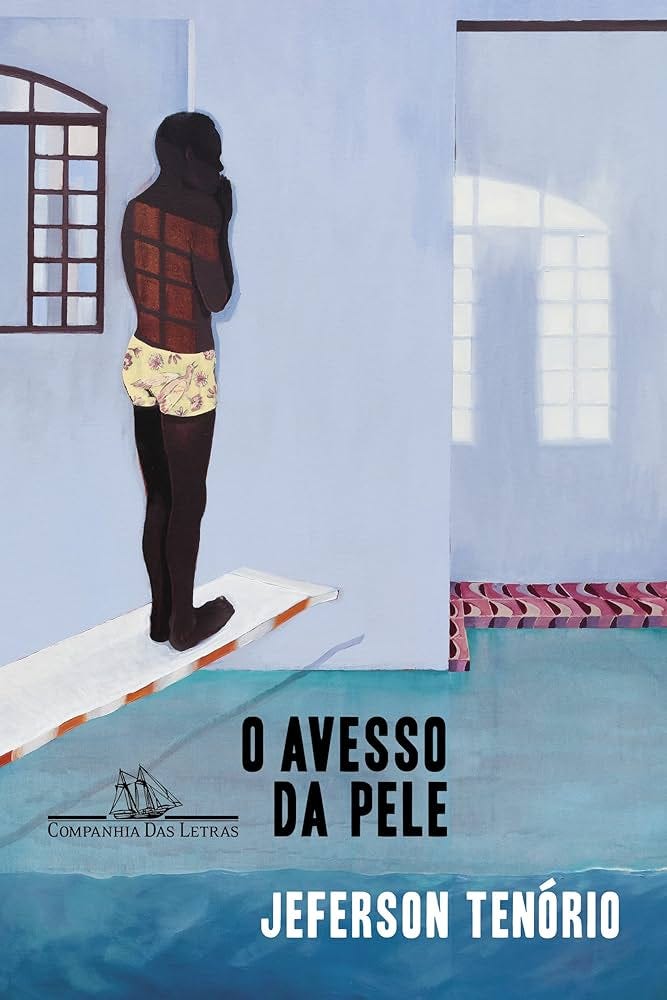

Já que mencionou o velho Graça, poderia revisitar e escrever sobre alguma obra dele um dia desses? Obrigada!!!
Muito boa essa discussão, complexa e cheia de nuances. Ótimo texto!