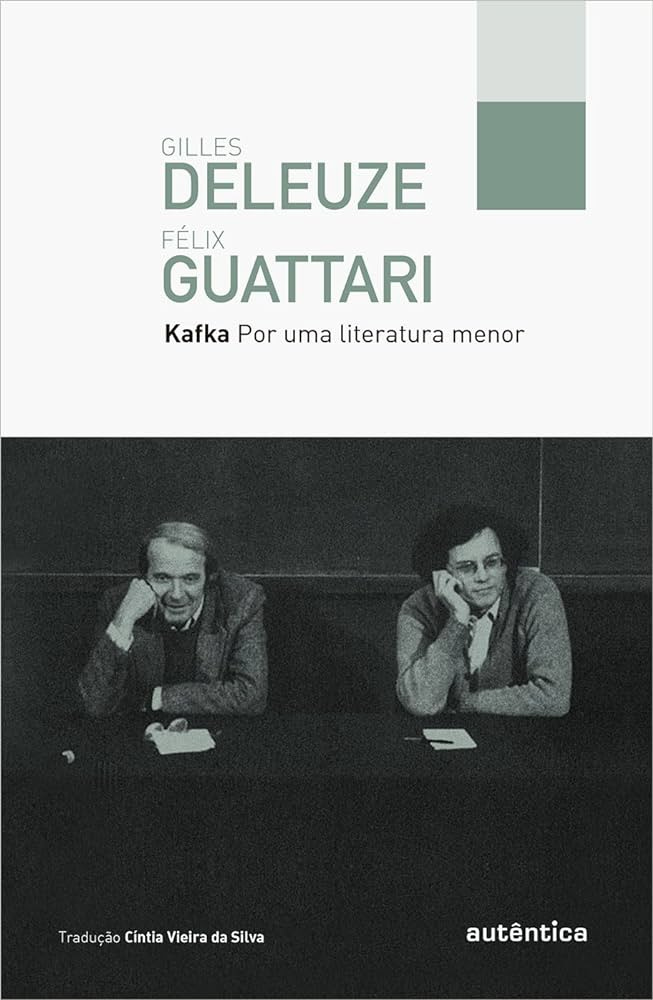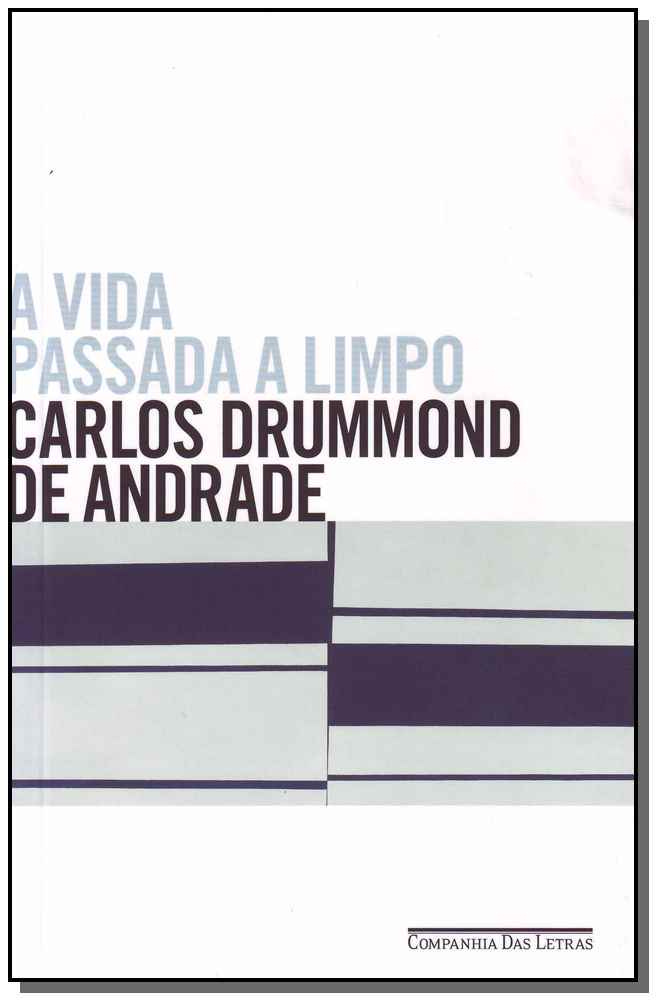O Kafka de Deleuze e Guattari: sentidos de uma literatura menor
Deleuze e Guattari demonstram o vigor da ficção kafkiana
Texto de José Roberto de Luna Filho
A obra de Franz Kafka (1883-1924) já recebeu as mais diversas chaves de leitura. O caráter enigmático de suas narrativas certamente contribui para que mais de uma perspectiva se apresente como plausível para lhe conferir sentido e coesão. Assim, o universo kafkiano já foi visto do ponto de vista religioso, por parte principalmente de Max Brod, que herdou os escritos do falecido amigo e os publicou, em vez de queimá-los, em conformidade ao que lhe pediu o autor. Foi visto também como metáfora o sistema capitalista, visão essa compartilhada pelo escritor Julio Cortázar e por um dos grandes tradutores de Kafka no Brasil: Modesto Carone. Já foi visto até como metáfora da burocracia soviética, por parte de Milan Kundera. Nenhuma delas, obviamente, está certa, ou mesmo errada, a princípio: unidas, apenas contribuem para o enriquecimento do legado literário do escritor tcheco.
A perspectiva de Deleuze e Guattari é diferente das mencionadas anteriormente e, não posso negar, é a minha favorita: é a que melhor deu forma àqueles anseios incompreensíveis e incomunicáveis que o contato com o texto de Kafka me suscitou desde o início. O primeiro livro do autor que li foi A metamorfose, que não me marcou tanto, nesse primeiro contato. Só posteriormente, após a leitura de O castelo e O processo é que fui capturado por aquele mundo que é a um só tempo obscuro e tão claro. As narrativas kafkianas parecem nos revelar verdades que sequer podemos entender. Há apenas uma comoção, um sentimento de estranheza e o desejo de elaborar aquela esquisita experiência.
Para Deleuze e Guattari, a obra de Kafka é uma literatura menor. Essa classificação, no entanto, precisa ser explicada, pois seu sentido foge bastante às expectativas criadas pelo adjetivo. A tradição a que os filósofos se filiam tem pouca paixão por conceitos classificatórios, pois os considera cortes bruscos e violências, uma vez que o conceito dá à realidade uma aparência uniforme, monológica e delimitada. É como se o conceito escondesse que qualquer aproximação do real por meio da linguagem não fosse precária.
Assim, “literatura menor” é um esboço de conceito, porque, embora sirva para certas operações argumentativas dos autores, trata-se de uma definição relacional, pois só tem sentido diante da existência de uma literatura que se considere maior. Não existem, por si só, literaturas menores. Existe uma literatura que pode demandar o título, e esse demandar não é uma marca indelével de sua existência, mas uma atitude do texto ficcional em relação a outros. O que é, afinal, uma literatura menor? Cito os autores e na seguida comento:
“Uma literatura menor não é a de uma língua menor, mas antes a que uma minoria faz em uma língua maior. Mas a primeira característica, de toda maneira, é que, nela, a língua é afetada de um forte coeficiente de desterritorialização” (Deleuze; Guattari, 2017, p. 35).
Uma literatura menor é aquela que questiona não só as verdades preestabelecidas, como a própria busca da nossa sociedade por verdades estáveis. É uma literatura que demonstra a precariedade da nossa realidade, na medida em que esta só pode ser construída através de símbolos, eles mesmos porosos. Tudo isso sem deixar de incluir a si própria em tal precariedade dos signos. Cito um exemplo que ilustra muito bem essa característica da narrativa kafkiana.
Um conto bastante curto, intitulado O timoneiro, possui o relato de um timoneiro que, numa noite qualquer enquanto navegava em seu navio, é de repente retirado de seu posto por um outro homem, que afirma ser ele, em verdade, o timoneiro. Ao perceber que será retirado da sua posição, grita, indignado, perguntando talvez mais a si próprio do que ao usurpador: não sou eu o timoneiro? Ao perder o controle do navio, chama o resto da tripulação para que retirem o desconhecido dali. Quando os demais tripulantes chegam, o timoneiro repete a pergunta que gritara anteriormente: e todos concordam que, de fato, o desconhecido está usurpando o seu lugar. No entanto, após ouvirem do novo timoneiro que não quer ser perturbado, os demais assentem e retornam aos seus lugares, sob protesto do agora não-mais-timoneiro.
O que causa a comicidade do relato e justifica a atitude da tripulação é a atitude do texto kafkiano diante da precariedade das leis e símbolos humanos de poder. Não há nada de essencial naquele timoneiro que justifique sua função de guiar o navio: ele é timoneiro unicamente porque a ele foi outorgada a função de ter o controle da direção da embarcação. Em alto-mar, sem auxílio de qualquer autoridade, no entanto, o termo que lhe define (timoneiro) se torna ainda mais precário, pois ele em nada difere daquele que, como ele, se dispuser a guiar o navio.
O timoneiro confunde a profissão com o seu próprio eu, na medida em que considera absurdo que alguém que não ele possa ocupar aquela posição. A tripulação, no entanto, apenas constata que o manejo do timão por outra pessoa em nada modifica as coisas: o barco seguirá a seu destino normalmente. O desespero do timoneiro, então, é perceber que os tais “contratos” sociais não estão sendo seguidos por mais ninguém. Chamar a tripulação para reafirmar seu posto é, na verdade, um ato que revela a própria precariedade de sua função, afinal, ele precisa de determinado consenso de outras pessoas para que as coisas voltem a ser como deveriam. Sem uma autoridade, no entanto, esses contratos sociais se revelam imposições, precárias, que precisam ser mantidas por força de lei. O riso diante dessas leis tão precárias que caracterizam as figuras de autoridade e os sentidos estáveis de nosso mundo percorre, para Deleuze e Guattari, toda a obra de Kafka.
É claro que aqui, tendo em vista o espaço de que dispomos e os interesses de uma newsletter, apresentamos apenas uma parte pequena da argumentação dos autores. Há muitas outras reflexões e implicações relevantes ali colocadas, a começar pela afirmação de que a obra de Kafka subverte a lógica edipiana tão estabelecida em nossa cultura. Isso pode ficar para o futuro, se os leitores se interessarem. Porém o que trouxe aqui me parece ser o cerne do livro, visto que apresenta uma chave de leitura que complexifica a obra kafkiana (sem colocá-la em “caixinhas”) e revela a sua força para a contemporaneidade.
Referência
DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Kafka: por uma literatura menor. Tradução de Cíntia Vieira da Silva. Revisão da tradução de Luiz B. L. Orlandi. Minas Gerais: Autêntica Editora, 2017.
José Roberto de Luna Filho é doutorando em Estudos Literários pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade de Pernambuco com pesquisa sobre a obra de Graciliano Ramos.
A gente indica
Agora dedicaremos uma seção de nossa newsletter a indicações: de livros, poemas, filmes, músicas etc. Hoje, fica ao leitor o poema Instante, de Carlos Drummond de Andrade, publicado no livro A vida passada a limpo:
Instante
Uma semente engravidava a tarde.
Era o dia nascendo, em vez da noite.
Perdia amor seu hálito covarde,
e a vida, corcel rubro, dava um coice,
mas tão delicioso, que a ferida
no peito transtornado, aceso em festa,
acordava, gravura enlouquecida,
sobre o tempo sem caule, uma promessa.
A manhã sempre-sempre, e dociastutos
eus caçadores a correr, e as presas
num feliz entregar-se, entre soluços.
E que mais, vida eterna, me planejas?
O que se desatou num só momento
não cabe no infinito, e é fuga e vento.
Conversa sobre Otto Maria Carpeaux, com Guilherme Mazzafera
Já ouviu o último episódio do nosso podcast? Nele, Juliana de Albuquerque, Eduardo Cesar Maia e José Roberto de Luna batem um papo com Guilherme Mazzafera, que recentemente defendeu tese sobre Carpeaux. Na conversa falou-se da vida do crítico austríaco, da sua relevância para os estudos literários nacionais, de sua relação com o olavismo e até da polêmica envolvendo o suposto plágio de um texto de Walter Benjamin. Você pode escutá-lo clicando aqui.